O Galante aventureiro
Inácio Araújo
Poucos dias antes de começar a mostra dedicada a Antonio Polo Galante no MIS, recebo o maravilhoso volume “Cine Galante”, com vários subtítulos.
Não sei onde encontrá-lo, nem como encomendá-lo. Mas o recomendo vivamente.
Trata-se de uma edição de autor. Uma pena, pois teria caído como uma luva na antiga coleção Aplauso (que, nunca é demais lembrar, foi interrompida pelo atual diretor da Imprensa Oficial de São Paulo).
O conteúdo básico é um depoimento do próprio Galante a Emanuela Galante, sua esposa.
O mínimo a esperar, portanto, é um trabalho apaixonado.
Mas não é tanto isso que me encantou no livro, onde mesmo a parte dedicada ao Galante produtor me parece secundária.
O melhor, para mim, é a história do órfão criado primeiro em uma creche e depois no Pavilhão 1, que o livro não esclarece muito bem o que seja, mas entendi como uma espécie de Febem da época. Com um lado de prisão, no entanto.
É importante para conhecer o tipo de tratamento dado aos órfãos e menores abandonados em geral na época. Por exemplo: o Galante só será alfabetizado (por um cego!) já adolescente.
Mas há outras coisas, como a tortura de que foi vítima o próprio Galante. Tortura pesada, porém “inocente”. Justifico o inocente e suas aspas: é como se torturar fosse a coisa mais natural do mundo para arrancar uma confissão. É como se não houvesse perversidade nisso, e talvez não houvesse mesmo.
Galante diz que muito de seus filmes de prisão vêm dessa experiência, da qual aliás ele não se queixa nem por um minuto (exceto pela tortura, claro). Há uma bela história de amizade com um jovem que morre de tuberculose, e cujo nome o Galante nem sabia (eles eram identificados por números).
Mas, do Pavilhão 1 à vida do que hoje se chamaria de morador de rua (ele adorou a experiência, pelo jeito, por sua extrema liberdade) até chegar à Maristela e ser acolhido por Alfredo Palacios, seu futuro sócio, temos aí um caminho que explica muito da formidável intuição cinematográfica que marcou a trajetória de Galante pela produção cinematográfica.
Mais, amigos, vocês conseguirão dando uma lida no livro, que é laudatório, claro, mas que muito antes disso fala demais sobre o cinema brasileiro, seu caráter popular, sua proximidade com o público em determinado momento.
Dos vários conceitos emitidos sobre cinema pelo Galante me interessou um em particular.
A contestação do lugar comum segundo a qual a produção dita da Boca do Lixo seria decorrente da Lei de Obrigatoriedade.
É uma dessas coisas que se falam e que ficam, como verdades eternas. E ninguém, eu inclusive, nunca pensa em discuti-la.
O Galante responde com uma afirmação interessante: havia a obrigatoriedade de exibição, mas ninguém era obrigado a ver os filmes.
Ou seja, seu sucesso ou não dependia de outros fatores.
Ali estão, muito francamente, o lado intuitivo, aventureiro, picareta, poético desse que é um dos grandes produtores brasileiros de todos os tempos – é preciso engoli-lo, quer se goste, quer não.
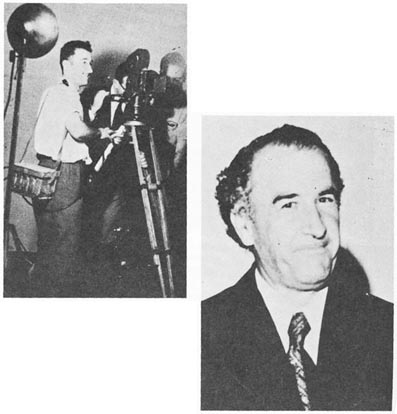 Dito isso, entro na parte pessoal dessa história.
Dito isso, entro na parte pessoal dessa história.
Devo muito ao Galante. Quando ninguém se atreveria a me dar uma chance, ele é que me passou a montagem de “Os Garotos Virgens de Ipanema”.
Mais tarde, ele me convidou a filmar um dos episódios de “As Safadas”.
Por fim, no fim dos anos 1990 tentou de todos os modos levantar a produção de “Casa de Meninas”, um roteiro que ele e Manoela adoravam.
Ele não conseguiu, mas seu entusiasmo era tanto que até me contagiou, embora eu já achasse a história fora de época.
A produção não saiu e Galante sempre pensou em termos de uma certa perseguição. Não descarto isso, nem de longe, embora não use a palavra perseguição.
Acho que preconceito descreve melhor o tipo de relação que a oficialidade sempre manteve em relação ao cinema de que Galante se tornou uma espécie de símbolo.
Oh, entramos num novo tempo: das colunas sociais, essas coisas. Um cinema, digamos, café society. Sem relação com a idéia de arte popular.
Bem, admita-se, os tempos mudam etc. e tal. Mas, por favor, tenho visto coisas assustadoras.
Uma delas, apenas para resumir. Existe um documentário que passa no Canal Brasil com o título de “Boca do Lixo: a Bollywood brasileira”.
Não descarto que haja aqui a intenção honesta de fazer uma analogia entre dois métodos de produção na precariedade.
Ok, só que um e outro não têm rigorosamente nada a ver. E quem olhar a filmografia da Servicine e do Galante (ou do Massaini, do Cervantes, de tantos outros) verá que isso que se chama Boca do Lixo não é mais nem menos que o cinema paulista entre os anos 60 e começo dos 80 do século passado.
Ela acontecia na Boca do Lixo.
A idéia de Cinema Boca do Lixo surgiu ali no fim dos 60, sobretudo com Rogério, Carlão, Callegaro e alguns outros que usaram o nome Boca do Lixo em grande medida como metáfora de nossa pobreza, mas também como resposta ao desprezo que o público letrado tinha pelo cinema brasileiro. Isso também convém que comece a ficar claro.














