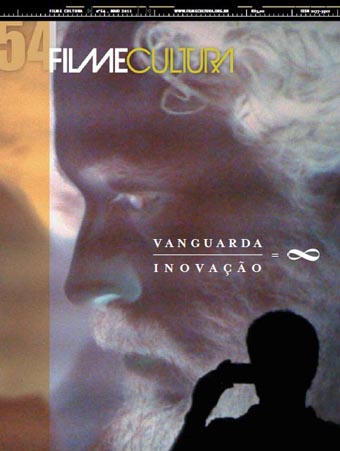Caos aéreo e outros caos
Inácio Araújo
Não pude fazer mais que um bate-volta no CineOP deste ano. Precioso como sempre. Homenagem a Carlos Manga, um dos grandes artesãos do cinema brasileiro, e ao tempo da chanchada, de que ele foi um dos principais cultores.
No passado a gente ria muito com a história da URSS, cujo passado se modificava conforme as últimas decisões do Politburo.
Mas, é estranho, o passado muda muito mesmo, cada vez mais. A chanchada, que já foi vista como vergonha nacional, passou a patrimônio importante do nosso cinema.
O tempo transforma a visão das coisas.
Penso que hoje existe a tendência a caminhar para uma perspectiva mais equilibrada, e foi isso o que se viu lá, nessa observação dos nossos anos 50/60.
Quanto mais o tempo passa, mais me parece claro que o cinema novo, menos que uma ruptura, é um corolário dos erros, acertos, experiências, tentativas, idéias dos anos 1950.
Há mesmo intersecções interessantes: Anselmo Duarte (cineasta que precisa ser revisto num próximos encontros, sem dúvida, e pelo Brasil em geral), que tem um pé na Atlântida e outro na Vera Cruz.
O Ministério do Medo
No começo do atual governo, Eder Sader estava indicado para um posto e caiu antes de tomar posse porque chamou a ministra da Cultura de “meio autista”.
Não sei o que ele faria na Casa de Ruy e parece que os projetos eram mesmo pouco ortodoxos, mas disso eu não entendo.
Eu sei que apontar autismo não é ofensa a ninguém. Fora do quadro patológico significa que a ministra não se comunica bem. Não era motivo para demissão ou retirada de convite ou lá o que fosse. Ela só se embanana mesmo.
Segue o enterro: Por que a Secretária do Audiovisual não estava em Ouro Preto?
Acaso discutir sobre história do cinema brasileiros e preservação de filmes brasileiros não faz parte de suas atribuições?
O autismo no MinC seria programático e não um estágio superável?
Rico ri à toa
Eu gosto de muitos filmes do Roberto Farias, mas raramente me entendo com as opiniões dele.
Ele acredita que no Brasil, até aqui, as pessoas fizeram os filmes que quiseram. Que agora a situação exige outra postura.
Não sei se é (e foi) bem assim. Sempre houve filmes para mais público e sempre para menos público. Uma coisa não deve eliminar a outra, e não seja a evocação da chanchada motivo para isso.
Na outra ponta, Maximo Barro, professor de cinema e antigo montador, lembra que José Carlos Burle, em “conversas de moviola” dizia detestar fazer chanchadas.
De fato, observe-se as obras “´sérias” e compare-se às chanchadas desses diretores, como Burle.
As coisas sérias hoje nos aparecem, com raras exceções, insuportáveis. As chanchadas, ao contrário, sobreviveram alegremente. Ou seja, detestar fazer ou não detestar acaba não sendo um bom critério.
Tropa de Elite
A Severiano Ribeiro chegou com uma tropa de elite a Ouro Preto, disposta a defender com unhas e dentes sua versão da história.
É importante, isso. Porque a primeira tendência dos historiadores é escutar quem esteve lá, diretores, técnicos, críticos. A impressão é sempre de que o produtor, distribuidor, exibidor, é um belo explorador, etc.
Nem sempre é assim. Nem em tudo é assim.
Acho importante cotejar dados. O pessoal da Severiano Ribeiro fala que os equipamentos eram os melhores do mundo. Só falta dizer que os estúdios punham os da Vera Cruz no chinelo.
Ora, a pobreza das produções Atlântida é franciscana. Isso está na cara. Não é nem um defeito. Era um modo de produção. Era o que dava para fazer.
Severiano Ribeiro era aliado dos americanos? É mais que verossímil. Senão, como sobreviveria naqueles anos uma cadeia de exibição?
Enfim, sempre há o que matizar, porque a visão da história não pode surgir de um lado só. A presença da SR é boa.
Mas convém conter certos exageros. As críticas a SR não são porque ele era nordestino. Isso não tem rigorosamente nada a ver. Esse tipo de visão já é muito subjetiva, algo que parece uma espécie de lenda familiar. Colocada em público, querendo transformá-la em versão final é já caminhar para a eliminação pura e simples do superego. Não fará mal à defesa da história da Atlântida a presença de seus representantes. Mas, como com frequência acontece, a suposição de que a sua história é a única possível vai derivando aos poucos para o burlesco.
No chão e no ar
É o seguinte. Ao contrário do que se possa imaginar, o caos aéreo continua firme e forte. Apenas que agora é mais organizado, de maneira que não dá mais para criar aquelas cenas de gente desesperada na TV.
Mas o princípio é o mesmo. Eu tinha avião às 13h52. Embarquei às 15h30. Atraso razoável. Não dá tempo nem de ir ao Procon reclamar. O problema é que não foi atraso coisa nenhuma.
Juntaram o meu vôo com o vôo seguinte, de tal modo que, na chegada a Belo Horizonte, eu vinha num vôo, mas o número de vôo afixado nas informações era outro.
No entanto, a minha mala estava lá, na esteira com número errado.
Claro, como sempre acontece nesses casos, marcam duas pessoas no mesmo lugar, essas coisas. Enfim, a diferença é que agora as coisas estão entre as aéreas e quem controla o movimento e tal. Enfim, está encoberto, mas ativo.
Como somos um país concebido, há séculos, para poucos terem tudo e muitos não terem nada, uma ligeira mudança nesse panorama parece um cataclisma.
Tentar chegar a um guichê da Gol no dia em que voltei equivalia quase a uma declaração de guerra. Com os funcionários da companhia (que se matavam para organizar as coisas, diga-se), com as pessoas atrás ou na frente da gente (que nos empurram com os carrinhos ou são empurradas, conforme a posição).
É impressionante, aliás, o Aeroporto de Confins. Vai ser ser ampliado? Parece um ovo, comparado a, digamos, Congonhas.
Do jeito que está, mal dá hoje em dia para receber o campeonato mineiro. Que dirá o mundial.
Quando comento essas coisas com minha parceira, ela não está nem aí. “Olha, na Europa e nos EUA é daí pra pior e eles acham que está tudo certo e que a vida é assim mesmo”.
A história precisa de no mínimo duas perspectivas.